sábado, 29 de setembro de 2012
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
LES GIRLS (1957)
Afinal de contas, só era preciso que os dois maridos acreditassem e que a acusação mais grave - a de tentativa de suicídio - se dissolvesse na fuga de gás. Ninguém tem peau d'ange (ou só tem essa peau) e nem sequer foi Kelly quem enganou Mitzi Gaynor, com o suposto ataque cardíaco. Tudo na mise-en-scène sublinha que era efectivamente ela quem o não queria "so much excited". Como Kay Kendall ou Taina Elg, ao seu lord ou ao seu francês. De tudo aquilo, a verdade (e até essa sê-lo-á?) é que era primavera, que viveram juntas, que foram girls (antes de serem outras coisas) e que são femmes (ou seja, "infames" para utilizar o trocadilho de Godard).
Les Girls foi comparado, por muitos críticos, ao célebre Rashomon de Kurosawa, onde também havia flashbacks e várias versões da mesma história. Não lhes vejo qualquer outra semelhança, pois que o jogo com a verdade (e com a mentira) é aqui de raiz inteiramente diversa e não é casual que tudo se refira ao teatro (à ilusão cénica) e ao tribunal (a ilusão do "nothing but the truth").
Também, como musical, muito boa gente lhe torceu o nariz, achando que Gene Kelly era mal aproveitado ("et pour cause", digo eu) e que o argumento de John Patrick não se combina bem com as canções de Cole Porter, que teria sido mal servido (esta foi, aliás, a última partitura de Porter). O próprio Cukor disse, um dia, não se considerar um realizador de musicais como Minnelli ou Stanley Donen. Até acho que tinha razão, porque a origem da magia em Les Girls (que, à excepção de My Fair Lady, é o seu filme mais enquadrável no género) é doutra ordem, que tem que ver sobretudo com o espaço da ilusão como cinema e com o teatro como tempo dessa mesma ilusão. Mas, como ele próprio notou, se o "musical" é o género anti-realista por excelência trata-se de elevar a ficção à sua potência mais absoluta. Como cada girl tem uma cor (cor que depois domina os três flashbacks do filme, de acordo com a que para cada uma delas escolheu) cada verso tem um reverso e vice-versa, até ao infinito. Podemos sonhar, por exemplo, com um outro flashback, contado por aquela espantosa e pavoneante loura que Gene Kelly despacha tão depressa no início. Ou pelo espanhol do comboio. Ou pela bailarina dos flamengos. Todos teriam muito contar. Afinal de contas não há na dança, como no amor, inúmeras posições possíveis? É disso - esplendor da mise-en-scène - que Les Girls também fala, ocultando tanto quanto mostra na genial elipse em torno da qual é construído.
Por mim, continuo - e cada vez mais - perdidamente apaixonado por estas Girls. They Are Just ... Digamos, "too too".
in FOLHAS DA CINEMATECA - George Cukor
quarta-feira, 26 de setembro de 2012
domingo, 16 de setembro de 2012
sábado, 15 de setembro de 2012
King Vidor sobre "The Fountainhead":
sexta-feira, 7 de setembro de 2012
terça-feira, 4 de setembro de 2012
Manifesto fora-da-lei

1 – Meu filme é um far-west sobre o III Mundo. Isto é, fusão e mixagem de vários gêneros. Fiz um filme-soma; um far-west mas também musical, documentário, policial, comédia (ou chanchada?) e ficção científica. Do documentário, a sinceridade (Rossellini); do policial, a violência (Fuller); da comédia, o ritmo anárquico (Sennett, Keaton); do western, a simplificação brutal dos conflitos (Mann).
2 – O Bandido da Luz Vermelha persegue, ele, a polícia enquanto os tiras fazem reflexões metafísicas, meditando sobre a solidão e a incomunicabilidade. Quando um personagem não pode fazer nada, ele avacalha.
3 – Orson Welles me ensinou a não separar a política do crime.
4 – Jean-Luc Godard me ensinou a filmar tudo pela metade do preço.
5 – Em Glauber Rocha conheci o cinema de guerrilha feito à base de planos gerais.
6 – Fuller foi quem me mostrou como desmontar o cinema tradicional através da montagem.
7 – Cineasta do excesso e do crime, José Mojica Marins me apontou a poesia furiosa dos atores do Brás, das cortinas e ruínas cafajestes e dos seus diálogos aparentemente banais. Mojica e o cinema japonês me ensinaram a saber ser livre e – ao mesmo tempo – acadêmico.
8 – O solitário Murnau me ensinou a amar o plano fixo acima de todos os travellings.
9 – É preciso descobrir o segredo do cinema de Luís poeta e agitador Buñuel, anjo exterminador.
10 – Nunca se esquecendo de Hitchcock, Eisenstein e Nicholas Ray.
11 – Porque o que eu queira mesmo era fazer um filme mágico e cafajeste cujos personagens fossem sublimes e boçais, onde a estupidez – acima de tudo – revelasse as leis secretas da alma e do corpo subdesenvolvido. Quis fazer um painel sobre a sociedade delirante, ameaçada por um criminoso solitário. Quis dar esse salto porque entendi que tinha que filmar o possível e o impossível num país subdesenvolvido. Meus personagens são, todos eles, inutilmente boçais – aliás como 80% do cinema brasileiro; desde a estupidez trágica do Corisco à bobagem de Boca de Ouro, passando por Zé do Caixão e pelos párias de Barravento.
12 – Estou filmando a vida do Bandido da Luz Vermelha como poderia estar contando os milagres de São João Batista, a juventude de Marx ou as aventuras de Chateaubriand. É um bom pretexto para refletir sobre o Brasil da década de 60. Nesse painel, a política e o crime identificam personagens do alto e do baixo mundo.
13 – Tive de fazer cinema fora da lei aqui em São Paulo porque quis dar um esforço total em direção ao filme brasileiro liberador, revolucionário também nas panorâmicas, na câmara fixa e nos cortes secos. O ponto de partida de nossos filmes deve ser a instabilidade do cinema – como também da nossa sociedade, da nossa estética, dos nossos amores e do nosso sono. Por isso, a câmara é indecisa; o som fugidio; os personagens medrosos. Nesse País tudo é possível e por isso o filme pode explodir a qualquer momento.










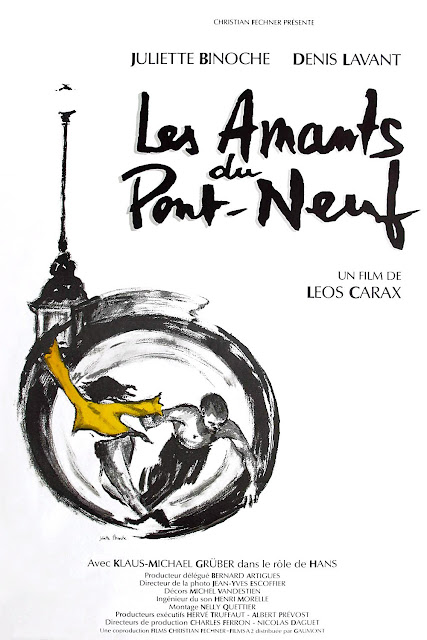



auteurs.jpg)

























